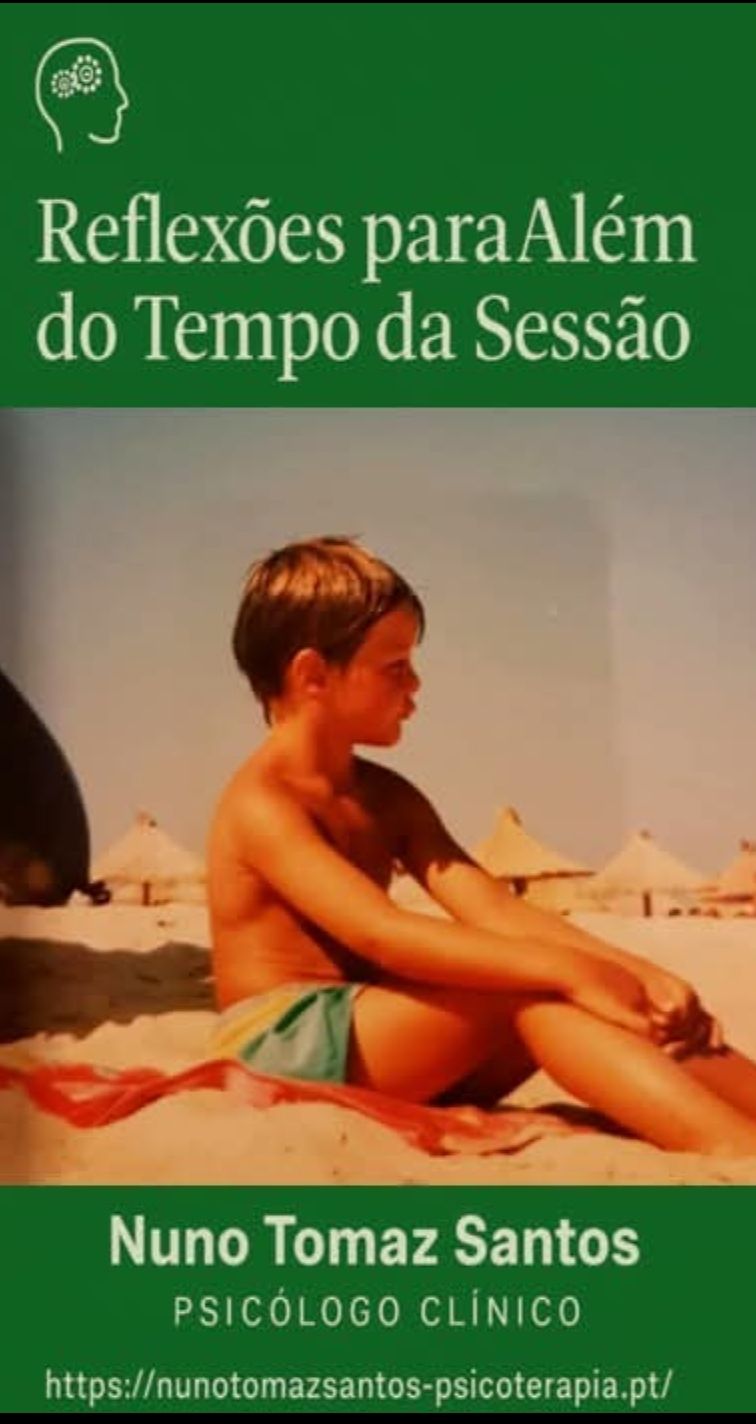
Este artigo explora como o trauma pode bloquear a capacidade de mentalizar, levando à identificação com o agressor e a padrões de dor, e mostra como a psicoterapia pode ajudar a reconstruir uma forma mais livre de amar e ser amado.
Quando a Mente se Esconde: Mentalização, Trauma e a Identificação com o Agressor
Há momentos da vida em que sentimos que as nossas próprias emoções nos engolem, como se aquilo que nos acontece por dentro fosse uma verdade absoluta e indiscutível. É aí que entra o conceito de mentalização. Mentalizar significa conseguir olhar para dentro de nós e para dentro do outro e perceber que o que sentimos, pensamos ou desejamos são representações, não a realidade em si. É dar nome ao medo, à tristeza, à raiva; é conseguir distinguir entre “eu sinto-me abandonado” e “o outro pode ter motivos para agir como agiu”.
A mentalização desenvolve-se, sobretudo, nas primeiras relações de amor. Quando um bebé chora e a mãe ou o pai não só lhe dão o biberão mas também o olham com ternura e dizem “estás aflito, estás com fome”, nasce a experiência de que o mundo interno pode ser reconhecido e traduzido em palavras. É nesse espelho humano que aprendemos que os sentimentos podem ser suportados, pensados e comunicados (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2002; Gergely & Watson, 1996).
Mas quando esse espelho falha, quando o amor vem misturado com rejeição, desatenção ou até violência, a capacidade de mentalizar fica comprometida. No trauma relacional, em que a dor vem precisamente de quem deveria cuidar, a mente protege-se suspendendo a reflexão. O que acontece então? Primeiro, a experiência deixa de poder ser pensada: fica apenas como pedaços soltos de sensação, imagens, cheiros, medos. Depois, a emoção torna-se demasiado crua, sem mediação, e invade tudo. Finalmente, instala-se a confusão: ou se vive a dor como se fosse a realidade absoluta, ou se fala dela como se fosse uma história sem corpo. É isto que se entende por falha de mentalização no trauma (Allen, Fonagy, & Bateman, 2008; Fonagy & Target, 1997).
Peter Fonagy descreve bem estas formas de colapso. Uma das mais marcantes é o modo de equivalência psíquica. Nele, aquilo que sentimos é vivido como a própria realidade. “Se sinto que não valho nada, então não valho nada.” “Se sinto que vou ser abandonado, então já fui abandonado.” Não há espaço para nuance, nem para imaginar alternativas. É como se o mundo interno fosse o mundo externo, colados sem distinção (Target & Fonagy, 1996).
O modo de equivalência psíquica não é um erro cognitivo simples; é um estado mental regressivo, ao qual todos podemos voltar quando a emoção é intensa e a segurança relacional está ameaçada. Na criança pequena, este modo é normal: aquilo que sente é, para ela, o mundo inteiro. Mas, no adulto traumatizado, a equivalência reaparece como uma forma de defesa, cristalizando a dor em certezas inquestionáveis. O que deveria ser uma representação torna-se uma verdade absoluta: sentir-se rejeitado passa a ser sinónimo de ter sido rejeitado. Isso impede a flexibilidade, bloqueia a curiosidade e alimenta interpretações catastróficas. Assim, o sujeito fica preso num círculo em que o passado traumático invade o presente, e as emoções deixam de poder ser pensadas — só podem ser vividas como se fossem factos concretos e indiscutíveis (Bateman & Fonagy, 2004).
Noutras vezes, para não sentir, a mente recorre ao chamado modo de simulação: fala-se da dor como se fosse uma ficção, um discurso vazio que protege mas isola. Estes modos não são defeitos da pessoa: são estratégias de sobrevivência automáticas quando a intensidade do trauma é demasiado grande para ser pensada (Allen et al., 2008).
E aqui entra um fenómeno ainda mais duro: a identificação com o agressor. Quando a dor de reconhecer “a pessoa que eu amo magoou-me” é insuportável, a mente encontra uma saída paradoxal: em vez de acusar o outro, colamos em nós a sua voz. “A culpa é minha.” “Não foi assim tão mau.” “Eu mereci.” É um modo inconsciente de preservar o vínculo com a figura amada, mesmo que à custa da própria dignidade (Ferenczi, 1933/1988; Freud, A., 1936/1966). Melhor ser cúmplice interno do agressor do que sentir o vazio de perder totalmente aquele amor.
No fundo, a falha de mentalização, o modo de equivalência psíquica e a identificação com o agressor são peças do mesmo quebra-cabeças: mostram como a mente, para não se despedaçar diante da traição ou da ausência, inventa formas de sobreviver. Mas essas formas de sobrevivência, que foram necessárias em certo momento, podem prender-nos durante anos a experiências de dor e repetição. Só quando alguém, num espaço seguro, nos ajuda a dar palavras ao indizível e a suportar o peso de olhar de frente para o que aconteceu, é que a mentalização volta a abrir caminho. E com ela, a possibilidade de reconstruir a narrativa de quem somos, não apenas como vítimas ou sobreviventes, mas como sujeitos capazes de amar e de ser amados de forma mais livre.